1. Um problema de sintonia
“Eles não chegam lá”: o título da esclarecedora matéria de Marco Rodrigo Almeida na capa da Ilustrada(Folha da S. Paulo, 03/01/2013) sintetizaum dado revelador do velho problema da produção e do consumo literários brasileiros. Enquanto os livros de não-ficção mais vendidos no país são predominantemente brasileiros, os de ficção são estrangeiros: as ficções nacionais encalham. Por quê?
É relativamente fácil compreender o predomínio de autores nacionais na não-ficção: eles costumam tratar de temas nacionais (embora isto não seja necessário, ou necessariamente positivo, pois no limite denota provincianismo), de imediato interesse local. A biografia de um bilionário nativo desperta mais interesse, por exemplo, do que o debate sobre o controle (ou o descontrole) de armas nos EUA. Além disso, como afirma Pascoal Soto, diretor-geral da Leya,
Na não-ficção encontramos autores dispostos a atender à demanda do grande público. Eles abordam temas interessantes [principalmente no sentido acima comentado] e escrevem de forma acessível. Já os romancistas escrevem para os amigos, para ganhar o Nobel de literatura.
A primeira parte da resposta parece verdadeira, mas a segunda, por força da ironia, acaba por ocultar as coisas. Os romancistas brasileiros escrevem, de fato, “para os amigos”, mas não como motivo primário. Na verdade, eles não escrevem para o público, que desprezam.
Esse desprezo pelo público se manifesta reiteradas vezes na matéria secundária à de capa (“Ficção perdeu os leitores, diz o autor de ‘O Filho Eterno’”, p. 3). O que não se compreende: pois as afirmações dos autores não são exatamente sofisticadas.
“O autor que se guia pelas tendências do mercado deixa de ser um artista para ser um comerciante” (Marçal Aquino)
“O que é bom não vende muito. O pessoal não tem nível intelectual para consumir um livro de maior qualidade” (Sérgio Sant’Anna)
“Há um sério problema de falta de sintonia entre o grande público e os escritores brasileiros” (Nelson de Oliveira)
“Nós perdemos o leitor depois dos anos 1970, quando a universidade passou a dominar a literatura. Houve uma poetização da prosa, a narrativa clássica implodiu. […] Se vender, ótimo. Mas ficar obcecado com isso pode envenenar o autor” (Cristovão Tezza)
A frase de Marçal Aquino é um velho clichê tardorromântico, que pressupõe a pureza espiritual do artista contra a impureza materialista do vil comerciante e, portanto, esquece, por exemplo, que Michelangelo e Da Vinci trabalhavam sob encomenda. Também esquece a “perda da inocência” ao longo de todo o século XX. A afirmação de Sérgio de Sant´Anna, por outro lado, é mais direta, e também mais desleixada: “O pessoal não tem nível intelectual para consumir um livro de maior qualidade”. O pessoal não tem nível intelectual? E se, para Pound, o artista era a antena da raça, para Nelson Oliveira é uma espécie de rádio, com um “sério problema de falta de sintonia” com o público. Já Cristóvão Tezza, antes de repetir o clichê de Aquino, parece confundir os anos 1970 com os anos 1920: a “poetização da prosa”, assim como a “explosão da narrativa clássica”, aconteceu cinquenta anos antes do que afirma. De qualquer modo, pouco poderia explicar das circunstâncias contemporâneas.
2. Gênio pobre versus vendilhão rico
O problema, em todo caso, estaria na defasagem entre o gosto médio do público por uma literatura igualmente média e a insistência dos ficcionistas brasileiros em criar uma literatura “sofisticada”. Isto geraria uma demanda sempre insatisfeita, de um lado, e uma oferta sempre insatisfatória, de outro. Pois a literatura “sofisticada” satisfaria apenas a demanda pessoal do próprio produtor, ignorando a demanda pública dos consumidores. Se fosse verdade, tratar-se-ia de um clássico problema de oferta. Neste caso, as próprias leis do mercado se encarregariam de solucioná-lo. Pois não é de se crer que o Brasil só produza candidatos a gênio literário, e nunca escritores que desejam simplesmente ficar ricos.
Prova disso é o mais rico escritor brasileiro – apesar de não se tratar, de fato, de um escritor. Refiro-me a Paulo Coelho. Ele não é um escritor porque escrever não é juntar palavras. Ou seja, juntar palavras não é suficiente. Por isso a lista telefônica não é literatura. Nem é literatura o que ele produz, pois literatura é trato com a linguagem verbal, de um lado, e trato da realidade pelo trato da linguagem verbal, de outro, e Coelho não faz uma coisa nem outra (operando por ocultamento do ocultamento, ao usar e abusar de clichês como se fossem obra sua, ou seja, por mera apropriação e reutilização do usado, abusado e gasto). Em todo caso, de seu sucesso comercial se concluiria que o gosto médio do público idem está de fato abaixo da média. Isto deixaria qualquer tentativa verdadeiramente literária de se adequar a esse gosto fadada ao fracasso. Mas também deixaria sem explicação outros fenômenos comerciais: de um lado, livros complexos ou complicados como O nome da rosa, de Umberto Eco; de outro, a verdadeira literatura média, mais do que robusta em lugares como EUA e Europa.
O caso de livros complexos de sucesso comercial é relativamente fácil de entender: trata-se do conhecido fenômeno do “livro de prestígio”, ou seja, que se torna importante ter, mas não necessariamente ler. Livros complexos, como regra, de fato não são fenômenos comerciais. Mas isto ainda não explica tudo. Mesmo porque, autores muito complexos já foram muito populares.
O exemplo máximo é Shakespeare, dramaturgo de maior sucesso popular na Inglaterra elisabetana, que, evidentemente, pensava em seu público ao escrever, ainda que não para simplesmente satisfazer do modo mais fácil o gosto desse público. O problema não está, de fato, em optar entre o baixo gosto médio do público e a alta arte sutil do grande escritor, assim condenado, ou à subliteratura, ou à solidão de estufa das flores raras. O problema está na incapacidade dos escritores de encarar o problema em sua inteireza e na inteireza de sua complexidade.
O verdadeiro dilema aqui é shakespeariano: ter o público em pauta ao escrever, mas não para simplesmente satisfazer de modo fácil o gosto desse público. Como a resposta-padrão dos escritores brasileiros retira o público mágica e convenientemente da equação (afinal, é um público que não serve para sua literatura), essa resposta-padrão nada responde e nada pode responder.
3. Literatura de entretenimento versus entretenimento pela literatura
Pesquisas indicam que o Brasil leitor é dez vezes menor do que o Brasil real, ou seja, um país de 20 milhões de habitantes. Mas um país de 20 milhões de habitantes ainda é meia Argentina, ou meia Espanha. Teríamos então, apesar de tudo, de ter um mercado equivalente à metade do argentino ou do espanhol. Mas estamos a anos-luz disso. A pequenez do público leitor brasileiro é, em todo caso, relativa. E não explica a falta de uma produção literária brasileira que o supra. Mesmo porque, toda a discussão começa pelo fato de esse público leitor se alimentar de livros importados.
Qual a principal característica desses livros? Ao contrário de Paulo Coelho, eles são literatura – mas integrada ao entretenimento, que é entretenimento do público. Portanto, o público faz parte da equação literária. A literatura média é, de fato, literatura de entretenimento.
Shakespeare também era, em sua época, entretenimento. Balzac era igualmente, em seu tempo, entretenimento. O problema é que hoje a literatura que prevê e, portanto, entretém o público seria uma literatura inferior. Ou talvez não. Porque o público atual é maior e mais diversificado: logo, não há apenas uma literatura de entretenimento, aquela reconhecida por este nome.
À exceção do relativamente recente e efêmero fenômeno das “sagas literárias”, que tiveram origem com O senhor dos anéisde Tolkien, a literatura moderna, passada a exceção vanguardista dos modernismos, é dominada, desde meados do século XIX, por duas vertentes centrais, derivadas dos dois principais criadores dessa literatura, Balzac e Poe. Enquanto Balzac consolidou e refinou a prosa de ficção como principal instrumento para retratar a sociedade urbana, burguesa e industrial, capaz de dar conta de seus aspectos materiais, psicológicos e sociais, o equivalente da épica para os povos antigos, Poe criou a literatura policial. Toda ou quase toda a literatura moderna deriva ou de Balzac, ou de Poe, ou de ambos. Jorge Luís Borges, Georges Simenon, Graham Greene, Dashiel Hamett, Patrícia Highsmith e ainda Stephen King e John Grisham são filhos de Poe, enquanto Ernest Hemingway, Saul Bellow, Phillip Roth, Amós Oz, Ohram Pamuk, Salman Rushdie, Ian McEwan e uma vasta lista descendem de Balzac (as vanguardas deixaram poucos descendentes na ficção mainstream, à diferença da poesia e das artes plásticas). E todos eles, a seu modo, são literatura de entretenimento. Porque são entretenimento pela literatura.
4. Entretendo-se com os herdeiros de Balzac e Poe
O inglês Graham Greene é o autor de ao menos uma perfeita obra-prima, o pequeno romance Fim de caso, que retrata em cápsula o momento histórico de Segunda Guerra Mundial e ainda cria uma das mais poderosas histórias de amor da literatura contemporânea, além de discutir a questão da teodiceia (a justiça divina). Há no livro algo de Stendhal, algo de Balzac e algo de Dostoievski. Mas também há muito da moderna literatura, bem, média norte-americana, cujo representante maior é Hemingway, o grande consolidador da escrita direta, seca, “objetiva”. Hemingway, um escritor médio? Sim, ao menos se comparado ao seu contemporâneo Joyce. Ou a Proust. Fundindo tudo isso, o que Greene consegue é um livro que, de fato, entretém, no sentido de que lê-lo não gera as angústias estético-intelectuais de um Joyce, mas sim puro prazer de leitura, sem deixar, no entanto, de ser um denso alimento para a inteligência. Na verdade, por ser, afinal, um denso alimento para a inteligência, sem falar nos sentidos, na imaginação e na empatia com os personagens. Portanto, Greene é de fato literatura de entretenimento – ainda que num sentido muito diferente do mais que banal Harold Robbins. Georges Simenon também, obviamente. Bertrand Russell costumava lê-lo todas as noites, e não por ser soporífero, mas o contrário: por ter grande leveza de fatura sem perder a densidade de estrutura narrativa e psicológica. Além de romances policiais, Simenon foi ainda o autor de uma longa série que chamou de romans durs, ou “romances duros”, que guardam certas semelhanças, mantidas todas as diferenças, com o Fim de caso de Greene. A “dureza” psicológico-realista desses romances curtos, em que o personagem central sempre está em uma situação limite criada ou possibilitada por ele mesmo, e em relação à qual não sabe se quer se salvar ou se perder, não impede, ao contrário, o puro prazer da leitura. Isto também mesmo vale para Phillip Roth, o mais balzaquiano desses três (portanto, o que mais status de alta literatura possui). Portanto, Roth também é, afinal, entretenimento. Literatura de entretenimento não é o mesmo que literatura ruim.
A incapacidade dos escritores brasileiros de criarem livros ao mesmo tempo bons e prazerosos é apenas a incapacidade dos escritores brasileiros de criarem livros ao mesmo tempo prazeroso e bons. Eles são, como regra, chatos, porque, como regra, são pretensiosos. E são pretensiosos por ignorarem o público leitor. Se não o ignorassem, não poderiam ser chatos, sob o risco do fracasso. Cria-se assim uma literatura satisfeita para ninguém, ou quase ninguém. Satisfeita talvez, mas não satisfatória. A menos que se considere a criação literária um hobby, que, de fato, só interessa para quem o pratica. Mas se se pretende algo além de um hobby, a literatura não pode satisfazer somente quem se dedica a ela. O público tem de ser posto na equação. Ou nas equações. Pois há uma simples e uma complexa.
A simples é simplesmente apostar no pior, no mais fácil, no mais paulo-coelho. A complexa é buscar a síntese de Simenon, de Greene, mas também de Roth e McEwan, ou de Shakespeare e Balzac: não trair a inteligência criativa, inclusive ou principalmente ao conquistar, sem traí-la, um grande público. Este é o caminho dos grandes escritores, sejam mediamente grandes ou grandemente geniais.
Somando-se a todos os conhecidos problemas editoriais e educativos, do lado da criação literária, não há no Brasil um grande mercado consumidor de leitores médios porque não há uma grande produção de literatura média. E não há porque os escritores brasileiros confundem literatura média com literatura menor, enquanto buscam certa “alta” literatura que, ao prescindir do público mas não ser nem poder se de vanguarda, é na verdade autista.
5. O cadáver insepulto da literatura policial brasileira
Resta comentar o caso específico da virtual inexistência de uma literatura policial no Brasil. Logo, um dos principais gêneros da ficção moderna, toda a linhagem derivada de Poe, simplesmente inexiste. Rubem Fonseca tentou criar uma literatura parapolicial no país, que abandona qualquer investigação de um crime para se concentrar (literalmente, em contos densos e duros) nos próprios crimes. Funcionou, mas se esgotou no próprio autor, que em seguida tentaria romances de investigação mais convencionais, chegando a tentar firmar seu próprio investigador canônico, o Mandrake. Não funcionou.
Os motivos do fracasso ainda maior de um ficcionismo brasileiro da linhagem de Poe, em relação ao da linhagem de Balzac, não estaria em qualquer descompromisso autista dos autores com o público, mas em circunstâncias objetivas – que nada tem a ver, no entanto, com nossos velhos problemas educativos e editoriais.
Para que haja interesse dramático numa novela policial é necessário que exista, no mínimo, além do imprescindível crime misterioso, uma coleção mais ou menos sortida de suspeitos sem culpa formada, sobre os quais nenhuma acusação se poderia formular. Em consequência, continuam soltos, atrapalhando o mais que podem a ação da polícia. O detetive seguirá pistas falsas, embrulhar-se-á, cairá em armadilhas habilmente urdidas. Até que, ao cabo de duzentas e cinquenta páginas, a ação se esgota, os recursos do criminoso esgotam-se, as faculdades inventivas do autor também se esgotam, a nervosa expectativa do leitor já se acha quase esgotada – e então o mistério é esclarecido e o romance acaba.
Mas no Brasil as coisas não se passariam assim. Se o romancista não quisesse fazer obra inteiramente falsa, sem qualquer possibilidade de convencer o leitor, deveria criar sua hipótese dramática de acordo com o que de fato aconteceria no caso de um crime real: a polícia começaria prendendo todos os suspeitos. Haveria, quando muito, uma trágica descrição de espancamentos, interrogatórios, torturas físicas e notícias berrantes nos jornais.
O que dá vida, interesse dramático e consistência à novela policial é um jogo sutil de raciocínio e brilho mental, a luta surda e ágil travada entre o investigador e o criminoso. Como se fosse uma dança, em que os dois se perseguem, se esquivam, se abraçam e se confundem.
Vê-se, desde logo, em que impossibilidade esbarraria o romance policial no Brasil e em outros países, nos quais os processos criminais não sejam orientados pelo maior liberalismo, nos quais não se admita, no suspeito, um possível inocente, em vez de nele se pressupor – como é de uso entre nós – um criminoso potencial. Não importam os textos dos códigos de direito penal, porque o que interessa não é a aparência formal e teórica das leis, mas, sobretudo, uma questão de aplicação prática das mesmas. […]
A novela policial só pode se desenvolver em países cujas instituições políticas e jurídicas se baseiam em normas essencialmente democráticas, isto é, em que haja um verdadeiro respeito pela pessoa humana. (Luís Martins, “Prefácio”, in Obras-primas do conto policial, São Paulo, Livraria Martins Editora, 1964, pp. 7-9)
O diagnóstico parece consistente demais para estar errado. Além disso, explica o fenômeno que pretende explicar de modo suficiente. Então talvez estejamos condenados a jamais ter uma literatura policial robusta. Ora, esta é outra explicação para as ficções nacionais não venderem – além de explicar a dificuldade em explicar o problema. Pois ela é normalmente ignorada. Com isso, não se discute o caso específico da linhagem de Poe, virtualmente amputada da produção literária nacional. Acontece que essa linhagem responde por boa parte dos livros mais vendáveis nos mercados centrais.
Recentemente, vários autores policiais suecos conquistaram seu mercado interno para, em seguida, lançaram-se sobre o mercado mundial e, naturalmente, acabaram virando filme. Ou filmes. No caso da trilogia Millenium, de Stieg Larsson, seu primeiro livro teve uma versão cinematográfica sueca e outra inglesa. A inglesa é superior, tratando de modo mais lento e consistente as várias camadas de circunstâncias que constroem a história, acabando por envolver e revolver o negro passado pró-nazista de parte da elite sueca, que se liga diretamente ao sadismo dos crimes contemporâneos de um de seus descendentes. Portanto, o sadismo deixa de ser gratuito (mero chamariz de emoções fáceis do leitor idem), tanto em termos literários quanto sociais (a lição de Balzac): não se trata de um “simples psicopata”, no sentido de que sua psicopatia se autoexplica para ser, então, “retratada” pelo autor em detalhadas cenas de sangue. Pois outra característica importante das ficções de alguma qualidade é que elas, de um modo ou de outro, mantêm a história na mira, não para fazer “romances históricos”, mas romances robustos, inclusive policiais. Algo que os escritores brasileiros têm dificuldade de manipular.
Mas se não tivemos, não temos e provavelmente não teremos uma literatura policial, o peso da responsabilidade sobre os herdeiros tupiniquins de Balzac é ainda maior. Eles podem continuar a ignorar soberbamente o público, e com isso deixar o mercado para seus congêneres estrangeiros, enquanto modorram em seu “olímpico” isolamento satisfeito por prêmios literários locais de prestígio duvidoso, ou tentar o caminho do verdadeiro criador, que é o caminho difícil. E a dificuldade, aqui, não é criar pálidas obras “sofisticadas” de estufa (na verdade, isso não é tão difícil: basta ter muito tempo, muita paciência e algum talento), mas livros que os leitores queiram ler (caso contrário, por que os leriam?).
6. Epílogo
Durante muitos anos, falou-se em certo “padrão Globo de qualidade”. Mas ele nunca existiu. Apenas a ausência das TVs americanas e europeias, enquanto não chegaram aqui as TVs a cabo, permitiu a manutenção desse mito provinciano. A Globo sempre foi o que é, incapaz de ir além de novelas, BBBs, comédias do mais baixo nível e “especiais” especialmente bregas de fim de ano. A TV de qualidade, assim como o cinema de qualidade, tem de ser importada. O mesmo vale, afinal, para a ficção. Os escritores de fato ignoram o público, mas não porque se dedicam a criar uma alta literatura brasileira contemporânea (tão real quanto o “padrão Globo”), e sim porque são incapazes de se profissionalizar, segundo padrões internacionais modernos.
Costuma-se acreditar que existem incontáveis empecilhos objetivos a essa profissionalização (que não dependeria, portanto, da postura dos escritores): das condições do mercado editorial à educação pública, passando pelas instituições políticas, ao menos no caso específico da ficção policial, como descreve convincentemente Luís Martins. Além disso, como referido de início, não fosse assim, a lei da oferta e da procura se encarregaria de gerar escritores eficientes, ou seja, simplesmente profissionais, como o são os ficcionistas estrangeiros. Mas o domínio do mercado interno brasileiro de não-ficção por autores nacionais complica o quadro das explicações conhecidas. Se os autores nacionais de não-ficção vendem relativamente bem, ser um autor brasileiro e vender relativamente bem é objetivamente possível. E se o problema se concentra, assim, na ficção, o problema não está, apesar de tudo, na demanda, no consumo ou em suas condições, mas na oferta: os produtos nacionais oferecidos não agradam o público consumidor, digo, o público leitor. Quem compraria um carro nacional se pudesse comprar um carro importado superior pelo mesmo preço? O que vale para os carros vale para os livros. Mesmo porque, não é apenas o pior da literatura de entretenimento que vende bem no Brasil, como Cinquenta tons de cinza, mas também seu melhor, como Philip Roth. E não temos equivalentes nacionais nem para um para o outro, mas apenas uma ficção tão pretensiosa quanto amadora – ao menos no sentido incontornável de não ser obra de profissionais, que vivem de seu trabalho literário e dependem, portanto, do público. Sendo nossos ficcionistas, afinal, amadores, podem ignorar o público, que, por sua vez, os ignora.
>> SIBILA – por Luis Dolhnikoff




 Escrito por Silvio Alexandre
Escrito por Silvio Alexandre 









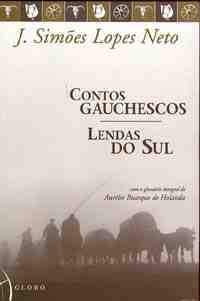

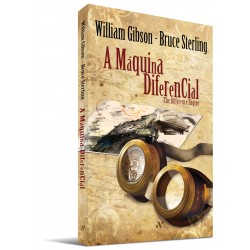

 Seus motivos são expostos no capítulo XIV. Variam entre o positivismo científico do século XIX e o messianismo, agregando sofismas e argumentos de autoridade. Ao contrário de Huxley, Moreau não era nem cientista, nem humanista. Em nossa concepção, estes termos são sinônimos necessários. Temos na conta desta categoria de pessoas aqueles indivíduos que se dedicaram a ampliar os campos do conhecimento humano, ou mantê-los ampliados, ou ainda, levaram este conhecimento para aplicá-lo pelo mundo. São os Sabin, Curie, Edson e Franklin que ilustram nossa História. Moreau é o antípoda de Albert Schweitzer, por exemplo, prêmio Nobel da Paz de 1952. Schweitzer foi exímio organista, que se formou em Medicina com o específico intuito de levar alívio à África, onde aos rigores da natureza adicionou-se a inclemência dos que se apresentaram como colonizadores. Construiu e equipou ao menos um hospital com fundos levantados em concertos nos quais se apresentava.
Seus motivos são expostos no capítulo XIV. Variam entre o positivismo científico do século XIX e o messianismo, agregando sofismas e argumentos de autoridade. Ao contrário de Huxley, Moreau não era nem cientista, nem humanista. Em nossa concepção, estes termos são sinônimos necessários. Temos na conta desta categoria de pessoas aqueles indivíduos que se dedicaram a ampliar os campos do conhecimento humano, ou mantê-los ampliados, ou ainda, levaram este conhecimento para aplicá-lo pelo mundo. São os Sabin, Curie, Edson e Franklin que ilustram nossa História. Moreau é o antípoda de Albert Schweitzer, por exemplo, prêmio Nobel da Paz de 1952. Schweitzer foi exímio organista, que se formou em Medicina com o específico intuito de levar alívio à África, onde aos rigores da natureza adicionou-se a inclemência dos que se apresentaram como colonizadores. Construiu e equipou ao menos um hospital com fundos levantados em concertos nos quais se apresentava.







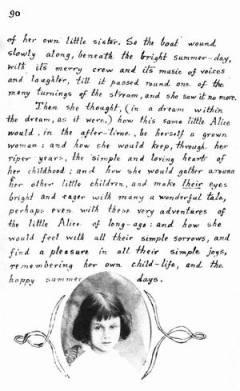
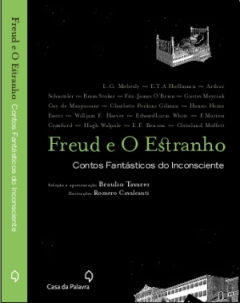
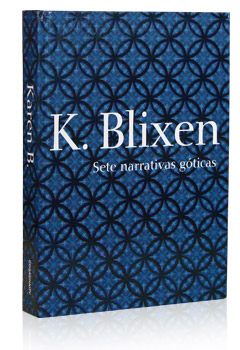





 Muito tempo atrás a vida era pura / O sexo era sujo e obsceno / Os ricos eram tão mesquinhos / As casas de campo para os lordes / Campos de croquet e gramados / Vitória era minha rainha
Muito tempo atrás a vida era pura / O sexo era sujo e obsceno / Os ricos eram tão mesquinhos / As casas de campo para os lordes / Campos de croquet e gramados / Vitória era minha rainha






 Veja as fotos do making of da websérie ApocalipZe
Veja as fotos do making of da websérie ApocalipZe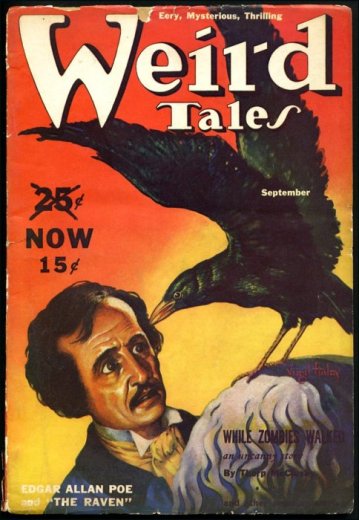









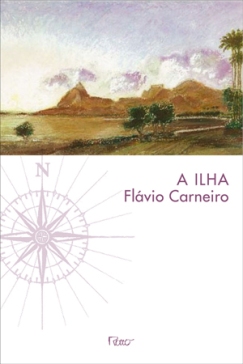
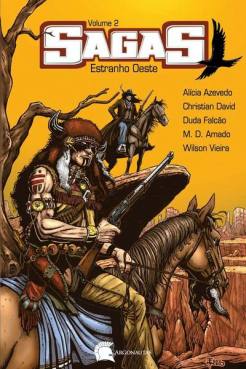
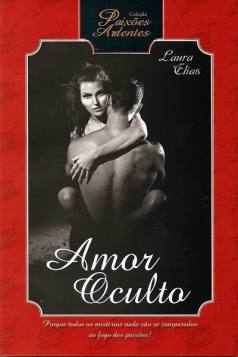

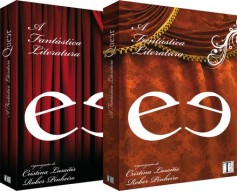
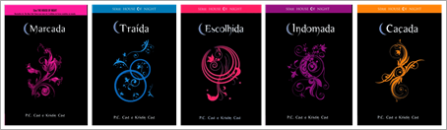

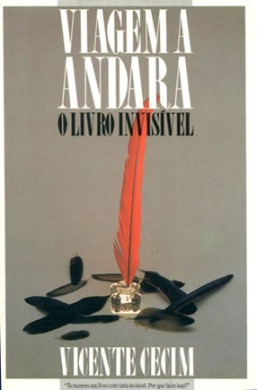






 As séries de TV com enfoques medievais continuam em alta com o sucesso de Game of Thrones. Segundo o Deadline, E a ex-falida MGM anunciou que vai produzir junto com os produtores de Os Tudors e Camelot, uma série sobre vikings, os guerreiros nórdicos famosos por suas embarcações, longas tranças, capacetes com chifres e muita destruição.
As séries de TV com enfoques medievais continuam em alta com o sucesso de Game of Thrones. Segundo o Deadline, E a ex-falida MGM anunciou que vai produzir junto com os produtores de Os Tudors e Camelot, uma série sobre vikings, os guerreiros nórdicos famosos por suas embarcações, longas tranças, capacetes com chifres e muita destruição. Se aquilo que escrevemos é oriundo do imaginário, o fantástico é fruto dos sonhos. Isso coloca a literatura fantástica brasileira como tendo uma gênese semionírica tinta de verde e amarelo.
Se aquilo que escrevemos é oriundo do imaginário, o fantástico é fruto dos sonhos. Isso coloca a literatura fantástica brasileira como tendo uma gênese semionírica tinta de verde e amarelo.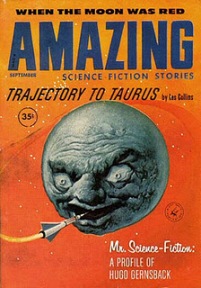
Você precisa fazer login para comentar.